 Credit: Paramount Pictures Image Source
Credit: Paramount Pictures Image Source
Ser cinéfilo em pleno século XXI, um desses amantes perdidos da sétima arte, é cansativo, irritante até. Desde a indústria de Hollywood cada vez mais virada para a concretização dos chamados blockbusters, o que até seria positivo se a grande maioria não se ficasse pelos efeitos especiais excessivos, e guiões repetitivos e inconsistentes, passando pela recusa dos cinemas fora das grandes cidades em passar filmes alternativos ou independentes, inclusivamente os premiados – bastará referir que, por exemplo, The Square, o vencedor da Palma de Cannes de 2017, andou por pouquíssimas salas -, até ao acentuar da falta de respeito em relação ao cinema como local de silêncio, reflexão e contemplação – telemóveis a tocar e a emanar luz, pessoas a pôr a conversa em dia ou a discutir, ou o típico esfomeado que faz a janta em pleno cinema, apetrechado de todos os snacks crocantes que havia na banca -, às vezes, parece que os astros se alinharam para complicar a vida aos que fazem dessa nobre arte o seu pasto para a mente, o seu refúgio onde as possibilidades são imensas, onde coisas mágicas acontecem. A reincidência dessas situações é tal, que pelos pensamentos ou sonhos mais sádicos desses desperados talvez já passaram imagens ilustrativas dum castigo divino, uma força sobrenatural que chamasse essas pessoas à razão, já que as chamadas de atenção são, frequentemente, desconsideradas. Como tal, não poderia ser mais irónico que esse vendaval de reinvindicação do silêncio surgisse através dum filme, um monstro disposto a castigar os barulhentos. Entenda-se que esta não é uma carta de protesto contra os devoradores de pipocas ou os tagarelas, até porque existe um meio-termo para tudo, um ponto saudável onde todo o tipo de comportamentos podem coexistir, é sim uma missiva laudatória da capacidade do objeto de estudo desta crítica para pôr a plateia em sentido, de transformar uma ida ao cinema numa viagem absolutamente sensorial e primitiva, e de fazer perceber o quão incomodativo pode ser o excesso de barulho para os que estão ali simplesmente para usufruir ao máximo da experiência cinematográfica. De repente, o ruído das pipocas a serem remexidas tornou-se uma avalanche, falar com o colega do lado num tom normal é como estar aos gritos e as notificações do Messenger passaram a ser uma autêntica agressão. A explicação é muito simples: A Quiet Place passa-se num realidade pós-apocalíptica onde uma misteriosa espécie de monstros sem olhos, mas extremamente sensíveis ao som, obrigam os poucos sobreviventes que restam a viver em silêncio, sob pena de serem caçados sem piedade ao mínimo ruído.
Realizado e escrito por John Krasinski, que também protagoniza juntamente com a sua esposa da vida real, Emily Blunt, o filme acompanha as lides duma família, um casal e três filhos - dois rapazes, interpretados por Noah Jupe e Cade Woodward, e uma rapariga surda, interpretada por Millicent Simmonds, atriz que também é surda na vida real -, nesse tal pesadelo distópico onde os azares banais do dia a dia, como tropeçar num degrau ou deixar cair um objeto, podem transformar-se numa sentença de morte. E, desde o primeiro minuto, que essa realidade é apresentada duma forma sublime, sendo o espectador atirado sem aviso para uma maré de mutismo, destacando-se uma abordagem formal onde a sonoplastia ganha um papel preponderante. Todos os sons importam, todos os movimentos das personagens criam vagas de tensão exorbitantes, já que ao mais tímido descuido, em tarefas tão simples como caminhar pela casa, o resultado pode ser catastrófico. O suspense criado por Krasinski tem um perfume distinto, uma certa dose de Hitchcock patente na maioria das cenas, pois depende quase exclusivamente da narrativa visual. São de destacar as referências ao trabalho de M. Night Shyamalan, tendo sido criado o mesmo pressentimento duma ameaça contígua de The Village (2004), um apêndice impossível de arrancar, impregnada nos hábitos das personagens, e utilizado um cenário semelhante ao de Signs (2002), um campo de milho verde e infinito por onde o pânico floresce em flecha. Krasinski enveredou igualmente por algumas referências discretas aos clássicos mais populares, como Alien ou Predator, e usou uma linguagem visual semelhante à de Steven Spielberg em filmes como Jurassic Park (1993) ou War of the Worlds (2005). A nível abstrato, para além da metáfora para a sensação de viver numa sociedade opressiva, à imagem duma ditadura, o filme aventura-se pelo conceito de paternidade duma forma inteligente e comedida, aproveitando as contextualizações temáticas – como é a vida num mundo onde fazer barulho é proibido – para expor discretamente os medos que afetam a maioria dos pais: será que o meu filho está seguro? Será que ouviu os meus avisos? Será que sabe que, apesar das habituais desavenças, eu o amo? E, na exponenciação dessa componente dramática, todo o elenco faz um trabalho excecional, com destaque para Emily Blunt que se torna, não diminuindo o trabalho dos outros intervenientes, o pêndulo emocional do filme, abarrotando a sua personagem de expressões faciais e corporais que exemplificam na perfeição a nequícia que se abate sobre a família de sobreviventes.
Porém, não obstante a sua frescura e originalidade, é necessário identificar em A Quiet Place alguma falta de coragem para levar a sua premissa inicial avante. Aos poucos, especialmente na segunda metade, a obra enche-se de sons artificiais. Onde apenas residia um filme praticamente mudo, salvo alguns diálogos em surdina, vai-se abeirando uma banda sonora competente, mas intrusiva, que ajuda a acelerar o pulso da ação, mas deita por terra o exercício do “puro silêncio”. Não são raras as cenas em que podemos dar por nós a perguntar o quão melhores estas poderiam ser se a música simplesmente não existisse, se Krasinski tivesse apostado em manter a crueza da primeira metade do filme em que quase se pode ouvir o cinema a respirar. É até legítimo ponderar se essa escolha não terá sido uma exigência da produção, onde consta o nome de Michael Bay, conhecido pela sua queda para o espalhafato, face ao receio de apresentar uma experiência inteiramente austera às massas. Como tal, conforme o ritmo dos acontecimentos vai aumentando, a obra tende a banalizar-se, surgindo os habituais aumentos de volume sincronizados com os sustos e os ângulos familiares já vistos e revistos em dezenas de filmes de terror, principalmente nos fabricados em Hollywood. Felizmente, essa tendência autodestrutiva, pois a minúcia e originalidade reveladas saem um pouco prejudicadas, não chegam para diminuir a excelente experiência sensorial e psicológica que A Quiet Place efetivamente proporciona. Ofuscando nessa matéria a maioria dos filmes de terror até hoje feitos, a obra é, acima de tudo, uma viagem emocional, funcionando o exercício formal executado como porta de entrada para a psique das personagens, para os seus traumas e receios, e para a sua forma de ver e sentir o mundo. Por exemplo, quando é apresentado o ponto de vista da jovem surda, o som é completamente abafado. Por momentos, conseguimos mergulhar no abismo da perda auditiva, mas também na insegurança e alienação experimentadas pela personagem. Pena que, no final, remanesça o pressentimento de que, caso o filme tivesse sido realizado por alguém mais experiente e audaz, e escolhas mais arrojadas tivessem imperado, poderíamos estar perante uma verdadeira obra-prima do terror. Por fim, saudações à chegada dum filme de estúdio – o tal silêncio já foi explorado antes por produções independentes – que declara guerra aos barulhentos, que lembra que o cinema é para alguns um local especial onde o silêncio, ou pelo menos algo que se aproxime dessa condição, devia ser um dever impreterível e não algo pelo qual se tenha de lutar.
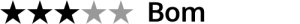
Gostei do filme!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit